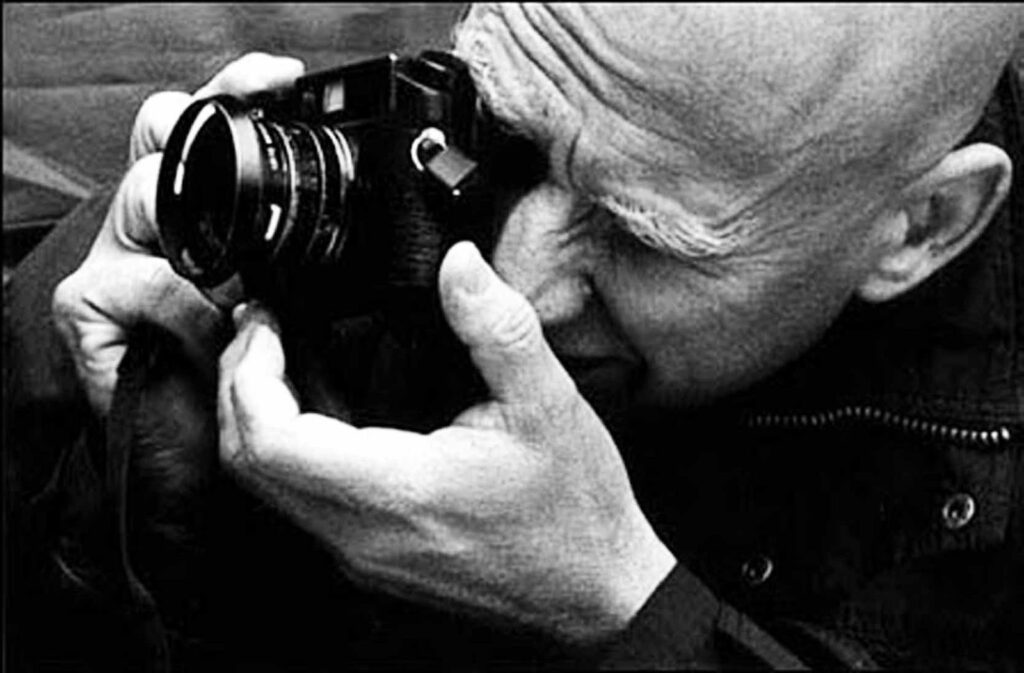Por Julio D’Avila
Existe uma certa vocação na arte nacional, de representar a realidade social brasileira, que pode ser descrita como um efeito Mário de Andrade, já que tem como objetivo último causar a sensação que o poeta sentiu ao abancar-se em sua escrivaninha: “esse homem é um brasileiro que nem eu…”. Ele refletia sobre o dia de um trabalhador exaurido, que devia estar dormindo enquanto Mário escrevia. A lembrança de que ambos compartilhavam do mesmo país gera um arrepio no poeta, que produz choque e revolta. A vocação que identificamos é a tentativa de reproduzir esse assombro, e ela se dá de algumas formas.
Umas delas é o sentimentalismo sensacionalista de Eduardo Coutinho em Cabra Marcado Para Morrer, devidamente identificado por Roberto Schwarz. Na obra, a filmadora foca nas lágrimas e tenta arrancar emoção de seus entrevistados, com a intenção de superar a questão da brasilidade ao apelar para uma suposta humanidade radical, revelada no sofrimento do choro. A ambição aqui é criar a identificação para além das especificidades culturais e sociais do personagem filmado, e concluir, melosamente: “somos todos humanos”. No entanto, essa suposta superação se dá com uma enganação, já que os conflitos e contradições da nossa sociabilidade são enterrados.
A cegueira ideológica envolvida nesse processo, que ignora especificamente o fator que bloqueia essa identificação, isso é, a necessidade de reconhecimento do envolvimento de quem assiste àquela cena como um dos responsáveis por ela, impede seu êxito. O humanismo difuso obscurece a relação social que criou o sofrimento exposto. O opressor não se enxerga como tal e, vendo o filme, só pode pensar algo nos moldes de: “esse homem chora como eu, sofre como eu, a vida realmente é uma batalha árdua para todos nós”. O efeito se encerra no fim do filme, porque o afeto foi circunstancial e – podemos aí culpar o cineasta – fabricado.

Outra forma, se seguirmos a nota de Paulo e Otília Arantes em um ensaio acerca de Gilda de Mello e Souza, é gerar no espectador um reconhecimento que faz exatamente o oposto. Destaca o brasileiro, que sobrepõe o humano. Se os autores em questão estiverem certos em atinar que os quadros de Almeida Júnior apresentam particularidades gestuais brasileiras, isto é, pequenas formas de expressão específicas da nossa experiência social e histórica, que vão do modo de andar até o modo de fumar, então, trata-se de uma maneira eficaz de chegar ao efeito almejado[1]. Nesse caso, a ideia construída é a de que todos nós comparticiparmos da humanidade, mas existe algo que produz uma união mais significativa. Somos brasileiros, e isso nos liga com uma força maior do que nossa humanidade comum.
No entanto, o “perigo” aí é outro. Esse jeito de produzir reconhecimento pode naufragar na turbulenta barafunda da brasilidade, que navega entre um orgulho patriótico e uma esculhambação autocomplacente. A distância entre o “sou brasileiro com muito orgulho” e o “Brasil é isso mesmo” ao furar uma fila é grande, mas a malandragem oferece um corta-caminho sedutor, cartada imediata quando exigida pela justificação moral. Ou seja, a visão de que algo é brasileiro não causa necessariamente um efeito de empatia, mas pode produzir uma narrativa de vagabundagem/malandragem/picaretagem que freia uma identificação.
Podemos observar isso no comportamento das elites, que oscilam entre um e outro modo de lidar com sua brasilidade. Enquanto se identificam, na maior parte das vezes, com o estrangeiro, em uma simpatia de classes supranacional, recorrem ao suposto “caráter nacional” para absolver sua própria imoralidade cotidiana, exercida na corrupção do dia-a-dia. Sentir-se brasileiro, então, é uma máscara, colocada quando o contexto demanda.

Ficamos então, por último, com uma iniciativa que produz um impacto totalmente diverso, e pode ser encontrada na fotografia de Renan Estevão, A Máquina do Mundo. Aqui, não se traz à consciência o choque de Mário de Andrade. Pelo contrário, o espectador enfrenta frontalmente essa epifania: “esse homem não é um brasileiro, que nem eu…”, pelo simples fato de que esse homem não é mais brasileiro, porque não é mais homem. E nós também não somos, já permitirmos que a vida em nosso país se reduzisse a esse estado. Distante das aspirações anteriores, a obra em questão norteia-se pela destruição dessas categorias, procura acusá-las, num golpe de negatividade que tenta demolir uma aparência para resgatar sua essência, desembaraçando a ilusão ideológica que as confundia. Se a humanidade pode se encerrar na mudança de uma cena para outra, um canal para o outro, não estamos mais falando de uma universalidade desejada, mas de uma invenção ultrajante. E se ser brasileiro não passa de um meio para justificar desvios de moralidade, não pode ser esse o nexo prospectivo de uma nação.[2]
O título da obra nos remete ao poema de Carlos Drummond de Andrade, do livro Claro Enigma, no qual o eu lírico rejeita a máquina que se apresenta à sua frente, máquina que lhe daria todo conhecimento que quisesse, faria sentido de seu mundo. A força da tensão presente está justamente na ideia de sentido, já que o computador é o símbolo-maior de nosso mundo, o meio que representa nossa era e que para o homem retratado serve para apoiar a cabeça e tentar descansar. A lógica do nosso mundo está nesse descompasso violentíssimo, em que diferentes setores de uma comunidade são tão desiguais, tão distantes um do outro, que o objeto que organiza todo meio de vida de um grupo é usado, depois de jogado no lixo – isto é, tornado disponível para o uso pelos que não o possuem – é usado como descanso de cabeça por alguém. O Brasil é isso, esse monstrengo em que modos de vida distintos, de tempos diferentes – uns vivem no passado, outros no futuro – convivem, numa junção forçosa que abarca a absoluta miséria e a obscena riqueza.[3]
Há algo das fotografias da miséria de Sebastião Salgado aqui, porém desprendido da estetização do célebre fotógrafo. A lente nessa foto parece se erguer com pesar, e o olhar está no meio do caminho entre a pessoalidade sinuosa e o afastamento globalizante de algumas fotos de Salgado. Na Máquina do Mundo, aquilo que nós vemos não nos vê, mas não deixamos de estar ali, e podemos compreender melhor então a decisão de apresentar a foto sem cores.
O preto-e-branco na imagem de Estevão não reforça alguma textura ou remete ao passado. A descolorização confere um teor de atemporalidade à imagem, como se o homem em questão nunca fosse deixar de ocupar aquele lugar, que sempre foi assim. Como se o sentido da sociedade que construímos fosse exatamente esse, um homem relegado à miséria, apoiando-se no luxo-lixo da classe dominante, que acumula riquezas e posses pendurada no infinito, às custas dos que restam abaixo deles. O trucidamento de um país movido pela ambição de uma classe pelo que há de mais fino e moderno na vida elegante.
A câmera de Estevão não gera uma ponte entre nós e o retrato ao construir uma passageira subjetividade que conectaria olho e imagem a partir dessa construção de ideias partilhadas e emoções correspondentes que vimos nos exemplos anteriores. Antes, ela desmantela todo edifício que impede um real reconhecimento do que se passa ali, e anula a distância que essas ilusões criaram, nos posicionando com exatidão naquele cenário, cientes de nossa responsabilidade e dever.
Ao fim e ao cabo, é uma atitude que não poderia ser mais lógica. Se humanidade e brasilidade são dois conceitos que de fato possuem algum valor recuperável, a primeira e urgente tarefa não seria desobstruir a nossa visão deles? Enfim, talvez a pergunta fundamental seja outra…
* Agradecimentos a Sofia Azevedo pelas correções e contribuições.
Notas:
[1] Claro que esse não era o objetivo do pintor, falecido quando Mário de Andrade tinha seis anos. No entanto, sua obra funciona como exemplar perfeito de uma tentativa de sucesso no sentido proposto.
[2] Benedict Anderson, em Comunidades Imaginadas, coloca a nação como um grupo de pessoas que imaginam um futuro em comum. A ideia desse nexo prospectivo, então, não pode ser algo como o tratamento que a brasilidade recebe hoje em dia.
[3] Esse mostrengo foi descrito com destreza por Chico de Oliveira, que o chamou de Ornitorrinco, um bicho que comporta diferentes estágios evolutivos em um corpo, aberração zoológica que desafia a classificação precisa.